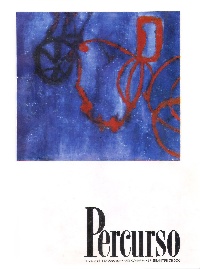
voltar à primeira páginaResumo Partindo do caso de um psicótico, atendido em uma instituição, esse texto visa a situar as construções delirantes no quadro da situação existencial do paciente. Autor(es) Alessandra Monachesi Ribeiro é psicanalista, membro do Departamento de Psicanálise do Instituto Sedes Sapientiae, doutoranda em Teoria Psicanalítica pela UFRJ e mestre em Psicologia Clínica pela PUC-SP. Notas * Texto baseado em apresentação pública realizada para o processo de admissão ao Departamento de Psicanálise do Instituto Sedes Sapientiae e na dissertação de mestrado apresentada ao Programa de Psicologia Clínica da PUC-SP, para a qual tive uma bolsa de estudos do CNPq. 1. Para uma discussão mais aprofundada desses eixos nos quais concentro as distinções entre neurose e psicose, remeto o leitor à leitura de A. M. Ribeiro, Em busca de um lugar: itinerário de uma analista pela clínica das psicoses, dissertação de mestrado apresentada ao Programa de Psicologia Clínica da PUC-SP, São Paulo, 2004. 2. Refiro-me principalmente aos textos de P. Aulagnier e D.W. Winnicott acerca do assunto, os quais foram trabalhados em A. M. Ribeiro, op. cit. 3. S. Freud, “Estudos sobre a histeria” (1893-1895), in Edição standard brasileira das obras psicológicas completas de S. Freud, Rio de Janeiro, Imago, 1996 , Vol.II. 4. L.C. Figueiredo, “Presença, implicação e reserva”, in L.C. Figueiredo & N. Coelho Jr., Ética e técnica em psicanálise, São Paulo, Escuta, 2000. 5. Cabe ressaltar que, ao mencionar a transferência, tenho em mente a transferência psicótica tal qual conceituada por M. Klein, H. Rosenfeld e M. Little, entre outros. A partir desses autores, podemos considerar que a relação que se estabelece entre analista e paciente, quando o segundo é um psicótico, apresenta-se com uma tonalidade intensa, fusional, rápida, desconsideradora da alteridade, e projetiva. 6. P. Aulagnier, “Observações sobre a estrutura psicótica”( 1964) in Um intérprete em busca de sentido II, São Paulo, Escuta, 1990. 7. J. Lacan, Seminário 3 – As psicoses(1955-56), Rio de Janeiro, Jorge Zahar editor, 1988. 8. D.W. Winnicott, “Fear of breakdown”(1963), in Psycho-analytic explorations, Cambridge, Harvard University Press, 1997. 9. C. Calligaris, Introdução a uma clínica diferencial das psicoses, Porto Alegre, Artes Médicas, 1989. 10. S. Freud, “Notas psicanalíticas sobre um relato autobiográfico de um caso de paranóia (Dementia paranoides)” (1911), in op. cit., Rio de Janeiro, Imago, 1996, volXII. 11. D.W. Winnicott, “Os objetivos do tratamento psicanalítico” (1962), in O ambiente e os processos de maturação – estudos sobre a teoria do desenvolvimento emocional, Porto Alegre, Artes Médicas, 1990. 12. Nenhum de Nós, “Astronauta de mármore”, faixa extraída do CD Cardume, 1989. Abstract This paper presents a case of psychosis treated in an institution of mental health. It suggests that a psychoanalytic approach to the psychoses should privilege the creation of a “place to exist”, and that this can be based upon a careful employment of the patients own delusional constructions.
voltar à primeira página
| | TEXTOA clínica psicanalítica das psicoses:criação de possibilidades de existência *
Psychoanalytic work with psychoses:
reating possibilities of existence *
Alessandra Monachesi Ribeiro
Contar a clínica, viver a clínica... Como transfor mar em palavras e em escrita algo que é vivido como experiência complexa, repleta de nuances? Como narrar sem simplificar, como fazer com que a palavra não perca a carne e, com isso, a razão de sua existência?
A questão da palavra encarnada é uma que me instiga há tempos. Ela diz respeito à possibilidade de falar em nome próprio, apropriar-se de si mesmo e das experiências de vida, até onde isso seja possível. No mais, é responsabilizar-se pelo que lhe cabe e, também, pelo que permanece em si de inapropriável e para sempre estrangeiro.
O nome, a fundação, a assinatura... a palavra encarnada... diversas maneiras de enunciar um tema fundamental para a prática psicanalítica, especialmente quando esta se dá no contexto de uma clínica das psicoses: o tema da análise como criação da possibilidade de uma existência singular. Existência entendida aqui como a condição de desejar, sonhar, falar em nome próprio ou, em outras palavras, de existir enquanto sujeito. Este é, a meu ver, aquilo de que a psicanálise trata – ou o que ela possibilita. Se quisermos ir adiante nessa linha associativa, poderíamos pensar que se trata da verdade de cada sujeito, a verdade do desejo inconsciente com que cada pessoa é confrontada e da qual se torna, por assim dizer, responsável. A psicanálise viabiliza essa responsabilidade por si mesma, até em relação ao que se lhe escapa.
Escolhi apresentar trechos de um caso clínico de psicose, um dos primeiros em que tal problemática se evidenciou para mim, tendo funcionado como um fio condutor do tratamento. Cabe ressaltar, no entanto, que não vejo essa temática como exclusiva dessa clínica, mas antes ela parece servir para o campo psicanalítico como um todo. Portanto, na medida do possível, tentarei ampliar o alcance desta questão do âmbito das psicoses para aquele mais abrangente, da clínica psicanalítica.
É certo que existem diferenças evidentes entre neurose e psicose, trabalhadas em vasta literatura. [1] Essas se relacionam, grosso modo, às diferentes formas de constituição do eu e também aos diferentes modos como o psiquismo se organiza em torno de algum tipo de defesa. Há que se considerar também as peculiaridades na conformação de um setting psicanalítico, relativas ao enquadre institucional – no qual o indivíduo aqui apresentado foi atendido. As condições de organização psíquica de cada sujeito, bem como os diferentes ambientes em que o tratamento pode ter lugar, criam distinções importantes. Contudo, não me deterei nesses pontos, a não ser naquilo em que se revelem imprescindíveis para a compreensão da reflexão que procuro aqui estabelecer.
O homem mais solitário do mundo
Encontramo-nos em uma instituição pública de saúde mental, frente a um homem cujo diagnóstico é de psicose. Ele tem cerca de 40 anos e está há muito tempo em tratamento nessa instituição – praticamente desde que ela foi fundada. Uma pessoa de ombros caídos, segurando uma pastinha em uma das mãos, o rosto sorridente quase que permanentemente. Um rosto jovem, de criança, um jeito educado de se apresentar. Eu diria: bonzinho, obediente ou, se preferir dar asas à imaginação, manso... amansado... assujeitado.
Inicio o relato deste caso de maneira dura, esquemática, quase circunspecta para tentar traçar um contorno para o incontornável em que essa pessoa se apresentava, tentar fazer, através da escrita, aquilo que o próprio trabalho analítico buscou fazer: delimitar um contorno, um entorno, um contexto e, com isso, o recheio, a substância dessa pessoa. De que era composto esse ser?
O “Homem Solitário” – como o chamarei – era alguém que se esparramava, se perdia nos outros. Atormentado pela constante troca entre ele e seu entorno, apresentava-se, mais do que trocando, vazado. Sabia dos outros e os outros sabiam dele através de uma comunicação telepática constante. Com isso, a invasão, a total falta de privacidade e de intimidade e, conseqüentemente, a não necessidade de palavras. Para que falar se já está tudo dito e sabido?
Esse “Homem” me procurou, em um dado momento, com o pedido de que pudéssemos ler seu prontuário. Já havíamos tido uma série de contatos anteriores em outros contextos de tratamento na instituição – ou seja, ele havia participado de um grupo psicoterapêutico em que eu era uma das coordenadoras, de reuniões familiares, acompanhamento terapêutico em projeto moradia, projetos de pesquisa sobre religião e sobre loucura, entre outros – e, após um período em que mal o via na instituição, aparece com essa demanda. O que ele me pedia?
O “Homem Solitário”, pareceume, pedia para saber de si mesmo através das palavras dos outros, daqueles que teriam autoridade suficiente para dizer acerca de quem ele era. Um pedido alienado e alienante, um pedido de que os outros dissessem a verdade sobre ele mesmo... um ponto de partida, apostei, para algum outro lugar.
De que forma um pedido desses poderia relacionar-se com o que chamei de criação da possibilidade de uma existência singular? Aqui serão necessárias algumas considerações.
Parto do que chamei de pedido alienado por parte do “Homem Solitário”, e tal circunstância me remete a pensar na importância que vários autores em psicanálise atribuem ao outro para a constituição do eu. É na alienação aos cuidados, aos olhares e ao desejo do outro que o sujeito se constitui. É o ponto de partida para que ele possa, em algum momento, falar em nome próprio. [2]
Dada nossa condição de profundo desamparo, somos legados à dependência absoluta no início de nossas vidas, dependência de alguém que nos constitua, nos contorne, nos nomeie. O ser humano nasce – enquanto possibilidade – na alienação aos cuidados, aos olhares e ao desejo do outro. É ser dito pelo outro o que cria para ele a condição de, em algum momento da vida, poder dizer de si, falar por si mesmo.
A problemática do sofrimento humano parece residir exatamente no paradoxo criado por essa condição de extrema dependência versus a necessidade de criar algo próprio, de diferenciar-se e, em última instância, superar sua própria condição, mesmo que temporariamente, mesmo que de maneira parcial. O “Homem Solitário” inicia seu contato comigo, então, mediante que parece ser a seguinte demanda: “diga-me quem eu sou”. O enigma da Esfinge recolocado.
Como entender esse enigma a partir do lugar de analista?
Se se trata de um pedido alienado e alienante para a pessoa, o que podemos propor é um deslizamento, um trânsito entre a interrogação que é dirigida ao outro e a possibilidade de que ela retorne para o próprio sujeito.
O deslizamento possível
O “Homem Solitário” começa a ler seu prontuário. Letras difíceis, períodos fragmentados, informações parciais... Retorna inúmeras vezes aos relatos iniciais, quando era descrito como alguém violento, extremamente agressivo com sua família, uma pessoa de dar medo, que, a qualquer momento, sem razão ou motivo aparente, poderia partir para cima de qualquer um. Lia, lia e relia... um contraste com essa pessoa que ele se tornara.
Tornou-se manso e seu pai, a figura onipresente em sua vida. O filho era sua prova e testemunho acerca da loucura, estando sempre bem o suficiente para atestar que as “propostas alternativas ao hospital psiquiátrico” não são inócuas sem que, com isso, fosse ameaçada sua possibilidade de falar desse filho como um doente – já que ele nunca estava tão bem assim – o que revalidava as condições para seu engajamento enquanto um “pai de psicótico”. Filho vitrine do pai, vitrine da instituição, vitrine da antipsiquiatria. Vitrines são transparentes, e o “Homem Solitário” também o era, especialmente em relação ao pai, a quem contava tudo o que se passava consigo.
A princípio, eu também me sentia vazada com essa situação, à medida que percebia que não estávamos os três presentes em seus atendimentos – ele, o pai e eu – mas apenas um. E não era o “Homem Solitário”, mas o pai que falava através dele, reafirmando-se continuamente. Por que, então, o chamei de solitário, se ele parece tão acompanhado dos outros? Mantenhamos essa questão em mente.
O deslizamento se fez possível a partir do momento em que ele começou a escrever em seu prontuário. Como ele via, a cada nova sessão, que eu tinha anotado algo na data da sessão anterior (uma anotação sucinta, que atestava seu comparecimento, sem maiores detalhes), propus que ele mesmo o fizesse. Entendia que ele teria mais propriedade para fazê-lo, e essa proposta levou a uma abertura inesperada.
Uma ruptura, um salto, um risco calculado. O que pode surgir quando damos a palavra ao paciente?
Freud [3] correu esse risco calculado quando, ao tratar de suas histéricas, deu a elas a palavra sobre si mesmas. Seria mais fidedigno dizer que elas a tomaram dele, exigindo que fossem escutadas. Ele aceitou o jogo, e o que decorreu daí foi a invenção da psicanálise. Ou seja, a criação de uma aposta de que existe ali uma pessoa que sabe sobre si mesma, especialmente naquilo em que se desconhece mais profundamente e que lhe dá sentido. Aposta no sujeito, no desejo, no inconsciente, no recalque, no sentido e na articulação entre todos esses termos na transferência. Uma aposta complexa essa que o analista faz e que se renova a cada dia, com cada analisando, em cada sessão.
Parece-me que a análise, como criação da possibilidade de uma existência singular, acontece justamente nesse risco, nesse salto. Ou seja, por meio da legitimidade que a análise confere à fala de quem fala (o analisando), à existência de quem ali se encontra – o que quer que isso venha a trazer como conseqüência – ela cria um lugar para que o singular daquela pessoa se instaure. A análise enquanto lugar do analista, um lugar de reserva, daquilo que Figueiredo [4] chama de “presença reservada”, possibilita o estabelecimento de uma relação (transferencial) em que o analisando pode vir a transitar do lugar de alienado para o lugar de sujeito.
Para o “Homem Solitário”, escrever em seu prontuário criou a oportunidade de adicionar sua letra àquelas que falavam dele e, com o passar do tempo, até mesmo sua assinatura. Pôde me contar sobre seus temas favoritos: o Egito antigo e o espaço sideral. Nesse ponto, interrompia-se e dizia: “aí é a viagem, né doutora?”. A voz do pai, novamente, lhe dizia, sempre que ele começava a falar sobre algo singular, “que ele estava viajando”. Eu insistia em que ele viajasse ali, durante suas sessões. Como seu maior sonho era embarcar numa nave espacial rumo às estrelas, um dia decidiu que eu iria com ele, eu e umas tantas pessoas que já o haviam tratado, além de seus colegas de instituição.
Contou-me, então, que viera das pirâmides do Egito e do espaço sideral, mais precisamente do Sol. Isso ocorrera em um tempo sem tempo, há tanto tempo atrás que nem podia me explicar como tal fato se dera. Trouxe alguns recortes sobre o Egito antigo, relatos de enciclopédia acerca das pirâmides, figuras, histórias. Começou a desconfiar que eu também tivesse estado lá, no Egito, nas pirâmides, por ocasião de sua origem.
Ao ser incluída em sua versão acerca de si mesmo – uma construção delirante que, como pude constatar ao longo do tempo, existia de longa data e ficara apenas esmagada pela voz do pai, que desqualificava sua fala – tornei-me testemunha do acontecimento de seu surgimento, testemunha do processo que o levou a poder nomear-se. Não apenas testemunha, mas, além disso, figura participante, inserida por uma transferência [5] bastante peculiar no momento de sua constituição.
Neste ponto, terei de considerar as vicissitudes de ser o “Homem Solitário” um psicótico, e a maneira como isso delineava o que acontecia em seu tratamento.
As condições dadas pela psicose
Se mencionei a condição de profundo desamparo e dependência na qual nasce o ser humano, foi também para resgatar que uma maneira de entendermos a psicose seria considerarmos que, nesse momento inicial, algo acontece, e o trânsito possível entre a dependência absoluta e uma condição mínima de independência e diferenciação se vê obstaculizado. Em outras palavras, estou considerando a psicose como o resultado de uma falha no trânsito entre o estado de alienação e a possibilidade de ser sujeito.
Agrada-me particularmente a formulação de Piera Aulagnier [6] acerca desse tema. Para ela, o que não se dá para o psicótico, ou se dá de forma diferente do que para o neurótico, é exatamente a possibilidade de que ele se despregue da alienação primeira em que teve início. Não lhe é facultada essa possibilidade porque o outro não o nomeia como um outro também. Ou seja: a mãe o vê como apêndice de seu próprio corpo e não como um sujeito distinto, separado e, conseqüentemente, capaz de criar sua própria singularidade. Assim, ele fica prisioneiro dessa primeira condição, sem contorno, sem corpo, sem ato, palavra ou desejo que lhe pertença.
A catástrofe dessa situação é que não há nem como pensar que um sujeito se constitui ali, a não ser de maneira fragmentada. É como se fosse – ao menos essa é a imagem que consigo fazer a partir do contato com pacientes psicóticos – uma existência que ainda não se iniciou, uma vida em pause – como quando colocamos um CD para tocar e apertamos o botão de pausa – um estado de suspensão.
Suspensão no tempo e no espaço. O “Homem Solitário” não tinha tempo, não envelhecia. Isso não acontecia de forma radical, como pude testemunhar em relação a outros tantos pacientes, para os quais o hoje se perpetuava e nenhuma história, nenhuma memória, nenhuma conservação do que acontecera antes podia existir. Para o “Homem Solitário”, ao menos, algum tempo se tornara possível, principalmente por conta do tratamento que fazia – e aqui incluo tudo o que fez ao longo de todos os anos em que se tratou – e, mais ainda, por conta da legitimidade que ganhou para ele a construção que iniciava acerca de sua história. Ele se lembrava de mim, de outras pessoas, de situações que passáramos juntos, construía narrativas.
No entanto, sua capacidade de historicizar, de ter tempo, falhava em alguns pontos, principalmente no que dizia respeito a sua origem no Egito e no Sol, uma origem sem tempo e espaço. E sem conexão alguma com qualquer outra história de sua vida.
Esse buraco (que pode ter se tornado um nó, um ponto de amarração de alguma coisa ao longo do processo analítico, como veremos adiante) aparecia através de uma imagem, uma foto que carregava consigo na carteira, e que sabia ser dele quando criança. Um retrato em branco e preto de um garoto sentado, de calças curtas e suspensório, arrumado e sorridente. Era ele mas... quem era? Quem era ele da foto? Quem era ele que me mostrava a foto? Como o garoto da foto se tornou aquele que falava comigo?
Quando perguntava isso para ele, um abismo se abria, e lá íamos nós, para um poço sem fundo. Ele não sabia, não porque não se lembrasse – o que seria bastante provável, se ele estivesse em uma outra condição – mas porque não existia nada ali onde eu o interpelava, nenhuma substância. Não havia nada que preenchesse esse abismo, que fizesse ponte entre o garoto da foto e o “Homem Solitário”, era um vazio puro, e a angústia insuportável ficava comigo, que era capaz de senti-la. Pareceme que é essa experiência que Lacan [7] procurou definir com o conceito de forclusão, e da qual Winnicott [8] se aproximou belamente ao refletir sobre um colapso que não foi vivido porque não existia quem pudesse vivê-lo na época em que ocorreu.
Assim, penso que não adiantava nada – para ele – que eu perguntasse do garoto da foto, do pai e da mãe do garoto da foto, de seus pais, suas irmãs, de sua origem como uma origem familiar, histórica, marcada pela sexualidade, pelo desejo e pelo limite. Quando eu fazia tais especulações, elas apenas serviam para mim, para que eu pudesse me aproximar das questões que ele trazia, para que eu pudesse manter minha aposta de que havia algo que era dito e podia ser compartilhado, mesmo que ele falasse em uma língua e eu em outra. Era possível, em alguns pontos, encontrar algo em comum. Era? Teremos deixar essa questão em suspenso, ao menos por ora, para considerar, então, a importância que adquire, para o psicótico, a tentativa que faz de suprir aquilo que não se constituiu para ele.
O delírio como possibilidade
Calligaris [9] propõe que o mundo interpela o psicótico ao fazer a ele uma questão, mediante a qual demanda que ele se posicione desde uma função paterna para respondê- la, ou seja, que ele se referencie, se posicione no mundo. Mas o psicótico é um errante, ele não tem ponto de referência a princípio, e o que acaba por acontecer é que, por vezes, frente à questão, ele terá de construir uma resposta. Essa resposta seguirá o modelo das respostas, guardando as peculiaridades que os recursos psicóticos possibilitam. A construção do delírio insere-se no contexto das repostas possíveis, e foi mediante esse contexto que o “Homem Solitário” pôde tomar posse de si mesmo.
Ao lhe ser dada a voz, o “Homem Solitário” constrói... um delírio. Ele toma posse de si ao fabricar um delírio, uma versão de si e da própria história, e não um posicionamento em relação a eles. (Quero dizer com isso que, diferentemente da problemática neurótica que demanda um reposicionamento, ele constrói tudo de novo). Mas não é a mesma coisa? Penso que sim e não. Parece que o delírio tenta ser a mesma coisa, tenta suplementar, preencher o buraco que ficou. Mas não é a mesma coisa, porque se monta sobre uma base esburacada. O delírio do “Homem Solitário” não é a mesma coisa que o fantasiar neurótico, apesar de os dois serem construções singulares que visam alguma apropriação do sujeito por si mesmo.
Nesse sentido, o delírio – como foi entendido desde Freud [10], como tentativa de cura – aparece justamente como o campo em que alguma história, alguma memória, alguma versão de si mesmo se dá, o que lhe garante algum tipo de inscrição, de participação na comunidade humana, mesmo que, com esse tipo de formulação, um tanto do compartilhar fique inviabilizado, posto que permanece o caráter extraordinário da construção delirante. Ou seja, o delírio traz consigo o paradoxo de possibilitar a comunicação, tentativa de criar um sentido, uma versão de si e do mundo e, concomitantemente, manter um certo alheamento desse mundo compartilhado, um certo isolamento que a certeza absoluta delirante traz, uma versão em que aquele sujeito parece jogar todos os papéis – ou ao menos determiná-los – sobrando poucas brechas para um “de fora” participar.
Dessa maneira, o delírio pôde se constituir na ponte inexistente para o “Homem Solitário” entre ele e ele mesmo. Conforme, em suas sessões, era legítimo que viajasse, sua história das origens ganhou mais substância, mais detalhes e até algumas derivações. O “Homem” trazia para os atendimentos não apenas os recortes sobre o antigo Egito, mas também novos recortes, trechos de jornal e de outros textos sobre o espaço sideral e sobre astronomia, os quais lia comigo e me explicava constantemente.
Certa vez, trouxe um livro de capa azul, chamado O Universo. Líamos nele as explicações de como nasce o universo. Reparei, com o tempo, que o livro tinha um autor – Carl Sagan – cujo nome havia sido coberto à caneta, na mesma cor da capa. Um livro sem autor, do qual o próprio “Homem Solitário” reivindicava a autoria. Então, quando lia para mim trechos do livro, percebi que ele fazia algumas pausas estranhas – como se engasgasse. Tropeçava nos nomes dos autores das coisas, das teorias, nomes dos cientistas, dos descobridores, nomes que ele pulava sistematicamente.
Parecia que a questão do nome, da autoria, ficava anunciada pelo silêncio, pelo negativo, por seu avesso, por não aparecer. Ninguém era autor de nada do que ele trazia para lermos nas sessões. Não havia nomes. Ele seria o autor de tudo? E, se assim fosse, nenhum autor ou um único autor para tudo não levariam ao mesmo lugar, um lugar desértico, sem pessoas, sem outros, inóspito, sem condições de existência? É possível, neste ponto, entender o que fazia desse homem, tão vazado pelo mundo, alguém tão solitário.
Concomitantemente aos livros, recortes e histórias sem dono acerca do espaço, o “Homem Solitário” trouxe um papelzinho, escondido no meio de outros – que agora passavam a falar sobre a luta antimanicomial, os congressos que freqüentou e a vitrine de seu “velho pai” – uma carta da mãe, na qual ela dizia que tinha ido visitá-lo, mas ele não estava em casa, pois tinha viajado para algum evento, o que a deixava muito feliz. Será que ela ficou feliz por não tê-lo encontrado ou por ele ter saído?
A mãe aparece dentre os escombros do pai. Fala-me, então, da sua namorada, um segredo bem guardado a sete chaves, tanto quanto aquele de sua origem, que ele custou a me revelar. Sua namorada era a Madonna – a cantora pop americana – que morava no andar de cima ao da casa dele e que ia para sua cama de noite. Tudo muito obscuro, truncado, mas ela existia e estava lá. Sua mãe eram muitas mães, uma mãe multiplicada por um número infinito, com quem ele mantinha pouquíssimo contato. Seu pai imperava, seus pais haviam se separado, ele morava com o pai. Dizia-se que, quando ele se mudou para a casa do pai, melhorou muito, deixou de agredir as pessoas, de ter tantas crises.
Madonna é a forma pela qual os italianos denominam a mãe de Jesus, o que aparece freqüentemente nos títulos de pinturas e esculturas que retratam Nossa Senhora. O “Homem Solitário” namorava a Madonna e sobre isso pairava um silêncio quase sufocante. Ela praticamente o invadia, à noite, na cama. Quando disse a ele que Madonna é o nome da mãe de Jesus, a ligação entre a Madonna namorada, a Madonna mãe dele, as muitas mães e eu se aprofundou ainda mais, e ele, então, cogitou que eu pudesse ser a Madonna. Ainda mais com meu sobrenome italiano...
O “Homem Solitário” largou os livros, os recortes, os textos. Passou a trazer seus cadernos, nos quais anotava muitas coisas. Escrevia, copiava... um caderno aos pedaços, no qual tantos pedaços dele e dos outros se encontravam ali inscritos. O que me chamava atenção era sua letra, sua escrita, sua forma de marcar o papel, de escrever, de riscar... Trechos copiados, trechos escritos, perguntas, respostas. Escreveu- me um poema, que acho já ter ouvido nalgum outro lugar. Anotou frases, muitas frases que eu disse ao longo das sessões. Pôs meu nome ao final das minhas frases. Anotei algumas frases dele e pus seu nome ao final delas. Uma parte do caderno tornou-se esse intercâmbio de frases, letras e autorias... todas assinadas.
A minha inclusão em suas construções pareceu aprofundar-se, o que me colocava em um lugar bastante delicado – o lugar da transferência psicótica. Se, por um lado, tal inclusão propiciava que ele produzisse, falasse, pensasse, delirasse – ou seja, se a relação transferencial viabilizava suas tentativas de existir – por outro lado pairava sempre o risco de que eu me tornasse uma presença esmagadora, sufocante como a Madonna, onipresente como o pai, a única ali a desejar, e a quem ele deveria submeter-se. Preocupavame que isso pudesse se repetir ali, em seu atendimento e, mais ainda, que se repetisse sem que pudesse ser elaborado de alguma maneira.
Porque, se a análise propicia que o sujeito se apresente com o que ele é, incluindo a repetição, ela também busca favorecer – justamente pelo fato de o analista não ocupar o lugar que o paciente lhe destina – que o que se inicia como repetição possa encontrar algum outro caminho, uma brecha.
O que me mantinha no meu lugar, em relação ao “Homem Solitário”, era o fato de cada um de nós falar uma língua diferente, estrangeira ao outro. Eu ficava excluída da língua dele e ele da minha, o que servia de anteparo a uma adesividade absoluta passível de ocorrer na psicose. A diferença estrutural (é a isso que me refiro como diferença de línguas) fazia guardar uma certa distância, a distância necessária para a análise. Eu estava, portanto, incluída e excluída de seu delírio, e ele se encontrava na mesma situação em relação às minhas traduções. Winnicott [11], a esse respeito, aponta que faz interpretações porque isso o coloca em uma condição de exterioridade em relação ao paciente. O erro, o desencontro garantem a não-adesão, um cuidado fundamental para a clínica das psicoses.
Além da diferença radical entre a analista e o analisando, um outro fator importante para manter uma brecha em relação à repetição e à manutenção de seu estado alienado foi a questão do segredo. Por ser alguém vazado, invadido e esparramado em seu entorno, parecia que o “Homem Solitário” não conseguia ter qualquer privacidade consigo mesmo, em relação a seus pensamentos e aos outros. Essa condição se evidenciava na relação com o pai, para quem contava tudo o que acontecia consigo. Eu lhe perguntava se ele não tinha segredos, alguma coisa só dele, que ele não contasse para ninguém. Não havia essa possibilidade. Até que, em determinado momento de seus atendimentos comigo, ele me diz de algo que não vai me contar. Pode ser algo relativo à transferência, pode ser que o que ele guarde consigo seja algo que não pode dizer para mim, acerca do que se passa na relação comigo. No entanto, o que me parece mais importante é o fato de ele criar um segredo, um espaço privativo seu, ao qual eu não tenho acesso, o que lhe dá uma certa opacidade. Já não está apenas como vitrine mas, por vezes, opaco, impossível de ser adivinhado a não ser naquilo em que se revele.
A função do analista e a criação de um lugar para o psicótico
O lugar do analista me parece delicado. Ele cria um ambiente e as condições para que o outro exista ali. Talvez seja do âmbito do desejo do analista desejar que o outro aconteça, que a pessoa que o procura exista. Isso pode se dar por meio da fala e, algumas vezes, por meio de toda e qualquer condição que o analisando crie para comunicar algo.
Entendo que o analista aposta nesse algo, aposta que há algo a ser comunicado e, mais do que isso, experimentado e esse é – me parece – o limite do que pode apostar, para não se tornar aquele que supõe seu desejo ao outro e o mantém na condição de alienação repetitiva dos inícios da constituição do sujeito. Dali em diante – do querer que o outro exista, da criação das condições para isso e da disponibilização de si para isso – basta. É o ponto em que o analisando intervém, toma algo para si e caminha. O analista não sabe exatamente o que vai surgir daquilo que propicia, mas aposta que pode surgir algo. Mais do que isso seria sair do seu lugar de quem desconhece. Penso que sua função é a de acompanhar e sustentar... o que está longe de ser pouca coisa, ou coisa fácil...
Um dia o “Homem Solitário” suspirou e disse: “puxa... acho que eu envelheci” e seu rosto já não estava tão petrificado no sorriso de sempre. Pelo contrário, estava sério, pesado, um peso que o tempo dá às pessoas, um peso da vida. Reparei que haviam alguns cabelos brancos na sua cabeça.
Mudamos de sala, para uma sala ampla, com uma mesa grande no centro e muitos materiais plásticos. Ele começou a fazer uma colagem, com figuras do espaço sideral e do Egito, naves, foguetes e tudo o mais que encontrava nas revistas. Nesses dias, eu tinha a impressão de que ele estava chorando em silêncio, mas não via lágrimas escorrerem pelo seu rosto. Ele se lembrou de uma cena – algo entre a fotografia que guardava na carteira e a pessoa que era hoje – ele e as irmãs brincando no parque em frente ao museu do Ipiranga. A mãe os levava. Lembra-se disso como um momento bom, de prazer e felicidade. Pela primeira vez lembra de algo com sua mãe e irmãs. Lembra também de quando era adolescente e gostava de AC/DC, uma banda de rock, e queria tocar guitarra. Lembra dos amigos, da turma que tinha então.
Em uma sessão posterior, se exalta e me fala, visivelmente emocionado: “você pensa que é fácil, Alessandra? Você pensa que é fácil? Eu fui para o espaço e voltei. Não é fácil voltar... eu podia ter ficado lá para sempre, mas eu tô aqui...”
Existe uma música do David Bowie, “Starman”, que ganhou uma versão em português feita por um grupo da década de 1980 chamado “Nenhum de nós”. Em português, ela se chama “Astronauta de Mármore” e diz algo assim:
“A lua inteira agora é um manto negro / O fim das vozes no meu rádio / São quatro ciclos no escuro deserto do céu / Quero um machado pra quebrar o gelo / Quero acordar do sonho agora mesmo / Quero uma chance de tentar viver sem dor
Sempre estar lá e ver ele voltar / Não era mais o mesmo, mas estava em seu lugar / Sempre estar lá e ver ele voltar / O fogo teme a noite como a noite vai temer o fogo / Vou chorar sem medo / Vou lembrar do tempo / De onde eu via o mundo azul”. [12]
O “Homem Solitário” me parece esse astronauta de mármore, que viajou para a Lua e voltou – ao menos temporariamente – e não sabe o que fazer com a dor de ter voltado. É depois disso que ele me diz, em uma outra sessão: “sabe, Alessandra, eu acho que, na verdade, eu não vim das pirâmides do Egito e do Sol, não. Eu vim mesmo foi ali do Ipiranga (bairro em que morou durante boa parte de sua vida) e não lembro de como fui parar no espaço...” Um deslizamento possível ao que pareceu ser uma nova questão: “o que aconteceu comigo? Como é que fui parar no mundo da Lua?”
É necessário interrompermos esta narrativa neste ponto, para que possamos alinhavar a história do “Homem Solitário” com o que eu chamava de busca de legitimidade da existência no início deste texto. Um outro motivo para a interrupção é que o processo terapêutico desse “Homem” também foi interrompido por ali, naquele momento, quando seu pai decidiu mudarse de cidade e carregou consigo o filho, o que gerou, subseqüentemente, uma série de telefonemas desesperados por parte do “Homem Solitário” que, com muito custo, parece ter conseguido constituir algum entorno em sua nova condição de vida.
Com esse excerto de caso clínico, procurei ilustrar como o processo analítico pode criar condições para que exista algo próprio ao sujeito que ali se encontra, através do que chamo de legitimação do que quer que surja desse sujeito, o que, de certa maneira, resgata a aposta inicial freudiana na existência de um sentido. Do pedido alienado à construção de uma história própria, minha posição como analista foi a de garantir a sustentação de um espaço em que tal acontecimento se fizesse possível, além de acompanhálo ao longo do processo.
Sustentar, acompanhar... parece- me que o lugar do analista pode ser esse de legitimar que a pessoa exista ali, qualquer que seja essa existência, um lugar de disponibilidade para o outro naquilo que ele tenha de mais singular.
Na busca pela apropriação de si, pela própria verdade, pelo que Piera Aulagnier chama de “falar em nome próprio” ou pelo que estou chamando de “poder existir”, parece- me que a psicanálise joga um papel importante, tem algo a oferecer. E isso não apenas no que tange à clínica das psicoses. Assim, a busca de um lugar de existência não deixa de ser questão, uma questão para a clínica psicanalítica, uma questão própria à condição humana. Como, do lugar de que partimos, podemos nos tornar alguém?
| |





