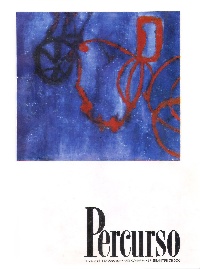
voltar ao sumárioResumo O mistério do local da morte de Édipo, como o que não se deixa cifrar – condição do enigma – leva a uma reflexão sobre a importância do que se furta ao saber, e sobre como o vital se dá sob o manto dos desaparecimentos. Autor(es) Suzete Capobianco é psicanalista, mestre em Psicologia Clínica pela PUCSP, membro do CETEC (Centro de Estudos da Teoria dos Campos). Notas 1 Para melhor caracterização do que no texto encontra- se apenas ligeiramente descrito, ver P. Roth, Complexo de Portnoy, cap.1, Rio de Janeiro, Ed. Expressão e Cultura, 1970. 2 Ou negociantes, que levam o troca-troca muito a sério. 3 Certa vez perdeu por duas vezes o avião que a levaria a um congresso internacional, por não encontrar a passagem ou o passaporte que se encontravam em seu carro, como se descobriu depois. 4 T. Vieira. Édipo Rei de Sófocles, São Paulo, Ed. Perspectiva, Fapesp, 2001, p. 17-36 5 T.Vieira, op. cit., p. 22-25 6 J. P.Vernant e P. Vidal-Naquet. Mito e Tragédia na Grécia Antiga, São Paulo, Duas Cidades,1977. 7 T. Vieira, op. cit., p. 26. 8 Sabe-se que o filósofo, amigo de Sófocles e de Péricles, foi perseguido e processado em Atenas por atribuir ao Nous (Inteligência), e não aos deuses, “o conhecimento de todas as coisas”. 9 M. G. Kury. A Trilogia Tebana , Rio de Janeiro, Jorge Zahar, 2002, p.114. Na passagem 220, Édipo responde ao Coro que lhe indaga por sua identidade e procedência: “...não insistais em saber quem eu sou, não pergunteis, não tenteis ir mais longe! ” 10 Pelo menos no plano das idéias, pois também para sua morte escolheu não ter cripta, mesmo pertencendo a uma tradição religiosa que não legitima a prática da cremação. 11 T.Vieira, op. cit., p. 27. 12 J. Derrida. Anne Dufourmantelle convida Jacques Derrida a falar da Hospitalidade, São Paulo, Escuta, 2003, p. 79. 13 J. Derrida, op. cit., p. 81. 14 Uma paciente que não tinha casa e sequer se havia dado conta de que não tinha um espaço seu, me disse certa vez: eu não tenho casa, tenho casulo. Um lar portátil, como diz Derrida. 15 Ou da novela? De quem será essa voz? 16 C. Buarque. Budapeste, São Paulo, Companhia das Letras, 2003, p. 39-40. Abstract In “Oedipus at Colonum”, the tragic hero asks for rest in a foreign land, and, at the end of his journey chooses a place to die that becomes a mystery. Mystery is different from enigma because it defies decipherment; hence this reflection on “that which withdraws from knowledge”, and the conclusion that what is vital happens under the mantle of “disappearance”.
voltar ao sumário
| | TEXTOÀs escondidasHiding
Suzete Capobianco
A cada vez que um texto começa, uma promessa de encontro se faz. A partir desse momento letras aparecem, palavras ganham a cena, um caminho se insinua e eus desaparecem. Passamos a estar juntos de um modo tão desaparecido quanto íntimo. A leitura avança, quem lê se esquece de quem escreve e assim, a sós e invisivelmente, a intimidade vai se tecendo para realizar, ainda uma vez, o ato da criação. Esse é, porém, só o ponto onde o caminho começa.
A dimensão que, de hábito, se abriga e some naquela que se apresenta mais visível a nós é o nó da minha questão. Seu eixo de articulação pivota ao redor de que fazemos juntos e a sós simultaneamente, como o ato amoroso, como escrever um texto junto, como ler o texto de alguém, ou psicanalisar, quiçá?
O texto que aqui segue, constitui-se num convite para que o leitor me acompanhe num traçado errático onde algumas reflexões feitas em torno do Édipo em Colono, possam ser articuladas com idéias e observações que passeiam dos tempos bíblicos a Chico Buarque. Seu desenrolar bastante excêntrico embute o efeito central de ter-me feito percorrer um longo caminho, misturando idéias que, embora contenham certo desajeito, me incitam a experimentar outros passos, que, diferentemente do claudicante Édipo, não me permitem encontrar pouso.
Os corpos servem para não existir
Há já algum tempo que me deixo seduzir por essa idéia. Inicialmente ela se infiltrou na observação de que aquilo que vulgarmente se associa à fantasia sexual raramente se constitui ou se revela como a condição para a existência do erotismo. No mais das vezes, a dita fantasia sexual é meramente uma montagem prêt-à-porter, uma performance imagética esvaziada de potência erótica. Os sonhos vitalmente investidos encontram-se muito bem guardados, tornando a condição de escondido sua maior evidência de proximidade com a fantasia sexual. A vida sexual viceja às escondidas. Isso não soa nada novo, exceto pelo fato de que esse esconderijo não equivale às quatro paredes de um recinto qualquer, mas se estende aos participantes do ato. A vida sexual permanece também escondida de quem a pratica.
Há também algum tempo que me ponho a observar a habitação dos corpos. O que me abre um universo complexo e vasto de histórias. Divertia-me ao provocar alguns ouvintes mais incautos dizendo que judeu não tem corpo. O que, embora sendo uma provocação, carregava (às escondidas, como convém) alguma verdade. Isso não parece espantoso a quem já sobreviveu a uma família judaica com os intestinos de algum de seus membros sempre em questão na sala [1], ou mesmo à difícil aprendizagem de não andar pela casa com as roupas de baixo ou parcialmente nus (não há nada a se esconder, afinal), ou ainda, ao excessivo uso do andar de cima do corpo, mais especificamente a cabeça: pensar muito, falar muito, comer muito. Judeus, via de regra, não são atletas. São antes intelectuais [2], como a contrabalançar o excesso de nudez que existe em sermos encarnados. A uma mãe que tudo vê e tudo sabe – dos sonhos e pensamentos à aparência das fezes — somos introduzidos, inocente e precocemente, na vivência de que a fronteira da pele é por demais insuficiente para a idéia de que haja resguardo, esconderijo possível. Como um provável efeito, os corpos se prestariam mais a experiências hipocondríacas (susto em relação às manifestações corporais, sempre carregadas de sentido, comunicadoras) do que a sustentar a exuberância de uma existência bem plantada. Não descartava de todo a hipótese de que o holocausto tivesse produzido também essa espécie de sintoma coletivo. Para não ser exterminável, passo a habitar um corpo já inexistente; para resguardar minha privacidade, mostro-me não atrativo ou desejável. Poderíamos contra-argumentar que, mesmo sendo uma das feridas mais traumáticas da história do Ocidente, é acontecimento relativamente novo na corrente da história. Remonta aos tempos bíblicos, entretanto, a errância e o desterro como um aspecto permanente do povo judaico. Seres desenraizados não haveriam de plantar-se no solo da existência da mesma forma que os de enraizamento estável.
Em vez de estender os exemplos, quero antes ampliar o espectro dessa amostragem. Não sendo privilégio do mundo judaico, também encontro em minha clínica nãojudeus largamente empenhados em desaparecer da vida encarnada e material. Impulsionados por razões que precisaríamos nos deter a ouvir em cada caso, tais manifestações incluem, por exemplo, uma enorme quantidade de profissionais que se esmeram em fazer seus honorários desaparecerem – como um paciente que os esconde de si mesmo distribuindo-os entre várias contas bancárias. Ou ainda outra paciente, cuja agenda profissional reflete um tempo imaginário onde muitos de seus clientes caberiam no mesmo espaço. No tempo que combina com os outros – comigo inclusive – está constantemente ausente ou atrasada. [3] Lembro também de um paciente obsessivo que realizava diligentemente o projeto de virar zero, para não se haver com seu desejo. Dizia com certo orgulho: “não sei dizer ‘não’ para os outros”. Assim ia abrindo mão de si no projeto de viver para o outro. Na soma de zero e um, ele ia virando o zero e desaparecendo até quase não existir. Há outras expressões cotidianas desse fenômeno: um engenhoso empenho em não ser, des-aparecer.
Foi ficando evidente que o fato de termos ou sermos um corpo não é ainda um acontecimento suficiente para que dele nos apossemos ou possamos habitá-lo de uma forma mais plena, até para o seu decantado uso sexual. Não basta sermos pulsionais; humanizar essa habitação requer trabalho.
Deixemos agora essas idéias temporariamente para que, passeando num caminho que nos leva a Colono, a Sófocles e seus heróis trágicos, especialmente Édipo, possamos ser trazidos de volta a elas.
Édipo se desfaz de seu corpo
Pareceu-me que seguir a trajetória do herói, para além de seu retorno a Tebas e da sucessão de desgraças a que foi submetido durante seu reinado, fertilizaria um outro território. Para isso, é preciso certo esforço de suspensão da genial e fundante concepção freudiana do mito e, dando ainda um passo atrás, ouvirmos a passagem historial que estava se dando nesse momento.
O Édipo em Colono é a última parte da trilogia tebana. Sófocles a escreve com idade avançada, já perto de morrer, e escolhe como cenário para a morte do herói sua própria cidade natal.
Acompanhando a ambientação histórica do período que Trajano Vieira [4] nos oferece na introdução de sua tradução do Édipo Rei, ampliase o horizonte de compreensão desse produto cultural como um exercício de reflexão sobre a dimensão do humano em sua relação com os deuses ou, dito de outro modo, com aquilo que nos ultrapassa enquanto liberdade e arbítrio. O autor, ao confrontar deuses e homens – aqueles na condição de detentores do destino do caminhar humano, do tempo futuro, e esses, os caminhantes cuja imersão terrena os impede de ver a destinação – cria uma tensão no campo da sobredeterminação e do arbítrio. Ambienta assim a existência dessa peça em um ponto entre o daímon e a razão.
Refere-se particularmente a um helenista americano, Bernard Knox, que se destaca pela análise da linguagem da peça e de quem nos oferece o ponto de vista pouco usual de que a questão central do Édipo Rei não seria o parricídio nem o incesto – cometidos antes do início do drama – mas a investigação levada a cabo pelo personagem com o intuito de descobrir, tanto o assassino de Laio, como posteriormente sua própria identidade.
E prosseguindo pela via da investigação e da linguagem, Vieira nos oferece a riqueza dos muitos sentidos que o texto grego contém:
“Knox observa que a reviravolta do destino do personagem ‘refletese na peripetia (reviravolta) de algumas de suas palavras características’. Édipo é ora sujeito ora objeto de verbos característicos da linguagem científica. Do mesmo modo que “examina” (skopeîn, 68, 291. 407, 964), “indaga” (historeîn,1150), é objeto da investigação (1180-1181); se, por um lado, é quem “descobre” (heureîn 68,108, 120,440,1050), por outro, é “o descoberto” (1026, 1108, 1213, 1397, 1421). (...) Ocorre também, no Édipo Rei, o emprego de um termo filosófico, o verbo oida, de interesse particular, pois está no centro de numerosos trocadilhos.(...) ‘Toda tragédia de Édipo está, portanto, como que contida no jogo a que o enigma do seu nome se presta’ ”. [5]
Vieira nos lembra de um sentido importante, que não ficou tão disseminado quando se examina os jogos de linguagem criados por Sófocles: Oidipous deriva de oideo (inchar) e pous (pés) referência ao defeito físico do herói decorrente da trave com que Laio perfurou-lhe os tornozelos. Há uma associação freqüente do nome do herói a oida (saber) que sugere a sua condição ambígua de saber e ignorar: soluciona o enigma, mas não sabe a própria identidade. Essa associação foi explorada mais extensamente por Jean Pierre Vernant [6], embora o que me pareça rico aqui é a verificação desses saberes no corpo da língua. Para ilustrar esse aspecto, Vieira destaca as observações de Knox sobre a ironia do próprio Sófocles, entrevista no sarcasmo de Édipo dirigido a Tirésias ao recordar “ que ninguém fora capaz de derrotar a Esfinge, somente ele, “Édipo, o que nada sabe”, conforme a tradução literal da expressão grega ho mêden eidôs Oidi-pous (397), em que eidôs (particípio de oida: ‘o que sabe’) repercute em Oidi-pous. Ironia e ambigüidade estão também presentes na decifração do enigma da Esfinge. A ‘cadela cantora’ pergunta qual ser possui dois, três e quatro pés – dípous, trípous, tetrápous. Oidipous responde acertadamente “homem”, isto é, oi–dípous (os de dois pés).” [7]
Determo-nos aqui é suficiente para notar que a associação de Édipo com caminho e saber é já bastante evidente. Não tão evidente entretanto, é o fato de Freud ter se detido nesse trecho da caminhada edípica e não ter prosseguido em direção a Colono. Os caminhos de Freud e de Édipo sobrepõem-se, em que pese o interesse pela investigação, pelo método (caminho) e pelo saber, pelo indagar, pelo revelar que traz para a dimensão humana a responsabilidade (responder por) pelo caminho. Diferentemente de Sófocles – que, pressionado pelo processo que sofreu seu contemporâneo Anaxágoras [8], acabou por fazer uma opção religiosa ambientando seu personagem no conflito entre esses dois mundos – em Freud, os deuses, os que designam caminhos misteriosos, foram incorporados ao humano na versão daquilo que se oculta à razão: ganharam a dimensão do outro, do ainda não sabido e, mesmo assim, e apesar disso, já em mim. Uma espécie de contração temporal onde o futuro se incorpora ao presente, numa versão obscura.
A trajetória de Édipo, ou do saber encarnado – se pudermos chamá-lo assim – , no entanto, não se interrompe aí. Ela talvez sequer se interrompa, posto que estamos falando de um personagem imortal: não há ponto final nessa história. A trajetória do herói realiza aqui uma outra peripécia ou reviravolta. Nesse momento da caminhada edípica, inverte-se a primazia em relação ao saber. Se em seu apogeu o herói encarnava o saber, em seu desterro nem o investigar é estimulado [9]. Uma outra espécie de relação se faz necessária. Édipo caminha em direção ao mistério. Seu corpo andrajoso e cego pedia pouso. Mas não por cansaço ou falta de coragem. Suas falas são bastante vigorosas quando apela ao Corifeu para que não se deixem levar pelo pavor que seu nome evoca e atesta sua inocência (265-305). Assim como quando expressa seu desejo de vingança sobre os filhos que o baniram de Tebas (460), ou quando responde a Creonte que, inteirado da profecia oracular, quer enterrá- lo nas cercanias de Tebas para proteger-se de perigos (855). O herói, na vizinhança da morte, realiza ainda um último gesto em consonância com os deuses. Dito de outra maneira, o modo como humaniza sua morte é o seu último gesto. Édipo faz da aceitação dos desígnios um ato de liberdade. Realiza o mais humano dos gestos: confia a Teseu, que o recebeu em terra estrangeira – também ele estrangeiro em sua casa – seu segredo. Em pagamento oferece proteção, conferida pelos deuses, à terra que abrigasse seu corpo. O que faz é um pacto de silêncio e um compromisso de, em segredo, passá-lo a algum cidadão de bem na ocasião de sua morte. Nem sequer as filhas puderam chorar a morte do pai no lugar de sua deposição, pois aí residia o mistério. Note-se que o mistério, aqui, não é um ato incompreensível. Pode ser até inaceitável, mas aquilo de que trata é da possibilidade de incorporar na dimensão humana o não-saber. O fato de não haver cripta que se tornasse lugar de adoração ou repúdio, visitação ou violação, nem autorização para ser possuído como tesouro ou relíquia por Tebas, e de sua morte ter sido feito o lugar sagrado de entrega que se faz a alguém de confiança, às escondidas, ilumina, tanto a dimensão daquilo que não se submete aos “criptógrafos”, posto que não se permite cifrar e portanto decifrar – condição do enigma – quanto a dimensão heideggeriana de verdade: a alethéia, ou desvelamento, furtase a um certo modo de saber e investigar. A ela se acede pelo habitar silenciosamente sua vizinhança para que, pelas vias da linguagem, de cuja morada somos hóspedes, ela se faça ouvir.
Dizer, pois, que a trajetória de Édipo termina em mistério é o mesmo que dizer que ela não termina. Morrendo, fez-se imortal. Em termos de saber, passou de decifrador de enigmas para aquele que, desencarnando-se, encarna o mistério. Essa é a passagem em que Freud não o acompanhou. [10] Incorporar a dimensão de mistério que há na caminhada, pode ter sido de Sófocles a última lição.
A pergunta pelo “aonde?”, tornada a essa altura uma questão periférica, permite ouvirmos de Knox, ainda, uma ressonância a mais em torno dos efeitos de linguagem. Ao citar, em Édipo Rei, a passagem do mensageiro coríntio recém chegado a Tebas (924-6), que estava em seu encalço, “mostra que o rei é nomeado no caso genitivo: Oidipou (de Édipo). Pou e seu correlato hopou significam ‘onde’. (...) “Saber onde” (oida-pou, katoisth’ hopou) é uma interrogação formulada ironicamente a respeito de um personagem que ocupa uma posição incerta no espaço.” [11] Nas mãos magistrais do trágico grego, Édipo Rei já continha a condição de atopia quando se tratava do genitivo (pertencimento).
Mas, deixemos as ressonâncias de lado para voltar ao caminho.
O em trânsito, o transitório e o intransitivo
No quebra-cabeças de surgimentos e desaparecimentos há uma peça importante a ser introduzida. O personagem em questão era um caminhante. Outros personagens míticos também são. Abraão sai de sua terra natal (vai de Ur a Canaã) para criar descendência, que não era profecia oracular, mas mensagem de Deus sem intermediações. Consta que lhe foi difícil entender a significação dessa ordem, posto que muitos tinham descendência, e que muitos anos se passaram para que se pudesse compreender por que precisou sair do seu lugar de origem e o que queria dizer “ter descendência”. Estava-lhe destinada uma fundação. Moisés recebe as tábuas da lei do “Altíssimo”, o acima das leis, e também a incumbência da travessia de 40 anos no deserto e a impossibilidade de entrar na terra prometida. Cabe-lhe conduzir, mas não entrar. Jesus também sai de Nazaré. É preciso seguir as estrelas de Belém ou de outros firmamentos, com-siderar os oráculos. É preciso cumprir desígnios e correr o risco de só entendê-los muito de pois (ou nunca). É preciso (su)portar o mistério para chegar ao saber.
Ao deixar vagar minhas questões, retornando sempre um passo atrás e pensando sobre a questão das origens, me ocorreu que ao separar a luz das trevas, o que Deus primeiro cria é a diferença. O que há em comum entre todos esses fundadores – Abraão, Moisés, Freud, Édipo – que morreram no estrangeiro? Deslocaram- se. Realizaram o trajeto que vai do familiar ao estranho, do sabido ao misterioso, instalaram-se na diferença. É mister caminhar.
Derrida, convidado a falar sobre a hospitalidade e, particularmente, sobre a questão do estrangeiro, nos ambienta nesse trajeto e coloca a peça do quebra-cabeça que estava faltando, a saber: a língua. A língua na sua condição de pátria móvel. A língua como o inamovível e possibilitador de todos os trânsitos e deslocamentos. Ouçamos:
“Nós nos lembramos, de digressão em digressão: logo no começo do seminário foi preciso deslocar a questão do estrangeiro. Do nascimento à morte. Costumeiramente, define-se o estrangeiro, o cidadão estrangeiro, o estrangeiro à família ou à nação, a partir do nascimento: quer lhe seja dada ou lhe seja recusada a cidadania a partir da lei do solo ou da lei do sangue, ele é estrangeiro de nascimento. Aqui, ao contrário, é a experiência da morte e do luto, é primeiro o lugar da inumação que se torna, como dizíamos, determinante. A questão do estrangeiro concerne o que se passa por ocasião da morte e quando o viajor repousa em terra estrangeira.
As “pessoas deslocadas”, os exilados, os deportados, os expulsos, os desenraizados, os nômades têm em comum dois suspiros, duas nostalgias: seus mortos e sua língua. De uma parte, eles gostariam de voltar, pelo menos em peregrinação, aos lugares em que seus mortos inumados têm sua última morada (a última morada dos seus situa, aqui, o ethos, a habitação de referência para definir o lar, a cidade ou o país onde os pais, o pai, a mãe, os avós, repousam num repouso que é o lugar da imobilidade a partir do qual se mede todas as viagens e todos os distanciamentos). De outra parte, os exilados, os deportados, os expulsos, os desenraizados, os apátridas, os nômades anômicos, os estrangeiros absolutos, continuam muitas vezes a reconhecer a língua, a língua dita materna, como sua última pátria, mesmo sua última morada”. [12]
E um pouco mais sobre a mobilidade e o lugar do intransitivo, nas palavras do autor:
“O que nomearia, de fato, a língua, a língua dita materna, aquela que carregamos conosco, aquela que nos carrega do nascimento à morte? Não parece aquele lar que não nos abandona nunca? O próprio ou a propriedade, pelo menos o fantasma da propriedade que, no mais perto do nosso corpo, e nós sempre ali voltamos, daria lugar ao lugar mais inalienável, uma espécie de hábitat móvel, uma roupa ou uma tenda? A tal língua maternal, não seria ela uma espécie de segunda pele que carregamos, um chez-soi móvel? Mas também um lar inamovível, já que ele se desloca conosco? (...) A língua resiste a todas as mobilidades porque ela se desloca comigo. Ela é a coisa menos inamovível, o corpo próprio mais móvel que resta em condição estável, mais portável de todas as mobilidades.” [13]
Deparamo-nos com a unidade mínima para pensar o deslocamento e as fronteiras. A língua é a moradia portátil, portável. Eu posso me deslocar e me destinar ao outro, ao desconhecido, e ainda assim manter- me habitando uma familiaridade molecular. [14]
Se nos é dada essa condição, se a abertura para a palavra é pilar da constituição humana, vai ficando nítido que a dimensão corporal, material é apenas a pátria de partida, o marco inicial de uma caminhada de destinações múltiplas que encerra em si apenas o sentido de que o corpo é nosso instrumento de transporte e não um destino ele mesmo. A condição estrangeira pode se designar por origem ou por destinação. Nós somos, por princípio, estrangeiros em nossa pátria corporal, estrangeiros de nascimento, e podemos ou não conquistar cidadania nesse território, conquistá- lo, chegar a habitá-lo propriamente. E quero crer que, talvez, habitálo propriamente comporte seus esforços de desaparecimento como atalhos tortuosos de uma verdade difícil de reconhecer, a de que os corpos servem para desaparecer.
Valendo-me do herói tebano, uma vez mais, ao desfazer-se de seu corpo ele se faz mito, na acepção grega do termo: o que se diz por aí. E o que se diz por aí não tem mais encarnação. É apenas o rumor da língua que se faz ouvir, é a perda da fronteira material da apropriação, o atópico por excelência, a língua se fazendo ouvir acima da mortalidade humana, é a língua do tempo.
A língua do corpo
“Ao ouvir cantar Teresa, caí de amores pelo seu idioma, e após três meses embatucado, senti que tinha a história do alemão na ponta dos dedos. A escrita me saía espontânea, num ritmo que não era o meu, e foi na batata da perna de Teresa que escrevi as primeiras palavras na língua nativa. No princípio ela até gostou, ficou lisonjeada quando disse que estava escrevendo um livro nela. Depois deu para ter ciúme, deu para me recusar seu corpo, disse que eu só a procurava a fim de escrever nela, e o livro já ia pelo sétimo capítulo quando ela me abandonou. Sem ela, perdi o fio do novelo15, voltei ao prefácio, meu conhecimento da língua regrediu, pensei até em largar tudo e ir embora para Hamburgo. (...)
Foi quando apareceu aquela que se deitou em minha cama e me ensinou a escrever de trás para diante. Zelosa dos meus escritos, só ela os sabia ler, mirando-se no espelho, e de noite apagava o que de dia fora escrito, para que eu jamais cessasse de escrever meu livro nela. E engravidou de mim, e na sua barriga o livro foi ganhando novas formas, e foram dias e noites sem pausa (...) até que eu cunhasse no limite das forças a frase final: e a mulher amada, cujo leite eu já sorvera, me fez beber da água com que havia lavado sua blusa.” [16]
Bravo!!
Assim se transforma a experiência na voz do poeta. O viajante estrangeiro, a língua, a carne e a imortalidade numa imagem de força colossal. Chico Buarque empresta- se a nós para que tome forma essa idéia. A mulher amada se oferece para portar a letra que o outro emite, mas que precisa de um outro corpo, estrangeiro, para que possa se apreender. Aqui se encontra o máximo e o mínimo deslocamento. É mínimo porquanto a proximidade geográfica dos corpos nos iluda dessa idéia de distância e é máximo à medida que é o movimento radical, o salto vital, abandonar- se para, correndo o risco de se perder, dar-se a chance de se encontrar num outro lugar. Encontra- se a si num corpo outro, outra língua, estrangeiridade, exílio, pouso. Não há mais volta. “Minas não há mais”, diria o outro poeta, Drummond. Seremos para sempre indigentes, na mendicância de um lugar corpóreo que nos dê abrigo e pouso. Nesse deslocamento damos passos para uma nova fundação, reproduzimos o caminho de Abraão, abandonamos o conhecido e partimos para outras pátrias, sustentados pelo mandamento – não mais de Deus, mas desse futuro contraído em sua agora obscura humanidade – para realizar os caminhos edípicos: nossas fundações.
Caminhos edípicos são os que trilhamos na busca de um lugar na trama familiar, assim como na trama das gerações. São os enfrentamentos vitais e mortíferos que travamos para aceder a um lugar matricial, inaugurador, que nos faz caminhantes mas que, ao final, nos informa da importância dos negativos: o não saber, o não caminhar, não possuir, não ser.
Dos negativos também quer dizer o eu-não-em-mim.
Não há saber ou sabor se não houver essa deposição de si. O caminho é solitário mas não se sabe sozinho: o acesso é dado pela via do amor. Assim o amor é carnal: menos embate de corpos que transporte cifrado das línguas em que estrageiramente habitamos. Escrevemos no corpo do outro para nos vermos, para encontrarmos a nós já devidamente desembaraçados da cegueira por excesso de proximidade conosco.
Se a Sheerazade d’As mil e uma noites contava histórias para que as mulheres do reino sobrevivessem à fúria de um sultão exterminador, na versão contemporânea ela se oferece para que aquele que conta uma história fique vivo. Uma estória não se faz sozinha. É preciso um corpo que lhe dê suporte, que seja entrega, recebimento, que ensine o transporte, o enigmático, o de trás para diante, o eternamente íntimo ato da criação. A imortalidade seria, então, não o que sobrevive a corpos inertes, mas uma dimensão que, em vida, pode ser apreendida se atentarmos para o fato de que os corpos servem para desaparecer, humanamente e em segredo.
| |





